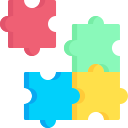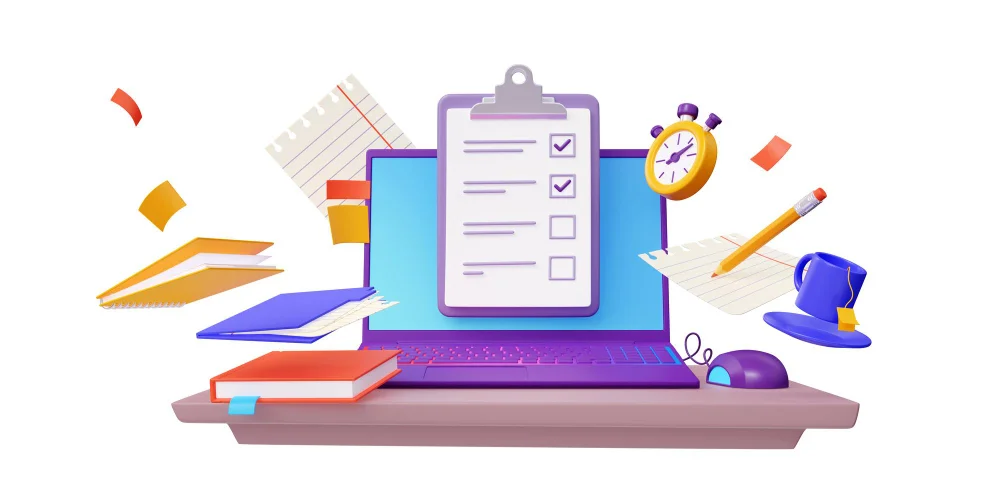
Prepare-se para o ENEM 2025 com o simulador gratuito de Ciências Humanas e suas Tecnologias – Filosofia. Resolva questões online, aprofunde seus estudos em ética, lógica e pensamento crítico e aumente seu desempenho para o SISU.
Tempo Máximo
Criado por: juanbacan
Um político, em seu discurso, defende que a principal função do Estado não é garantir a felicidade ou a virtude dos cidadãos, mas sim assegurar a paz e a segurança a qualquer custo. Ele argumenta que, no 'estado de natureza', a vida humana seria 'solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta', uma guerra de todos contra todos. Portanto, os indivíduos devem ceder parte de sua liberdade a um soberano absoluto em troca de proteção. Essa visão política é fundamentada no pensamento de:
Aristóteles, que definia o ser humano como um 'animal político' (zoon politikon) que naturalmente se realiza na vida em comunidade (pólis).
Jean-Jacques Rousseau, que idealizava o 'bom selvagem' no estado de natureza e via a sociedade civil como a origem da desigualdade.
Thomas Hobbes, que em sua obra 'Leviatã' descreve o estado de natureza como uma guerra generalizada e justifica a necessidade de um poder soberano forte.
John Locke, que via o estado de natureza como regido por leis naturais e defendia um governo limitado para proteger os direitos à vida, liberdade e propriedade.
A Alegoria da Caverna de Platão é uma das passagens mais famosas da história da filosofia. Ela descreve prisioneiros acorrentados em uma caverna, vendo apenas sombras na parede, que eles tomam pela realidade. A jornada de um prisioneiro que se liberta e sai da caverna para ver o mundo exterior e, finalmente, o Sol, representa:
O processo de socialização, pelo qual o indivíduo aprende as normas e valores de sua comunidade.
Uma crítica à tirania, mostrando como um governante cruel pode manter seus súditos na ignorância para melhor controlá-los.
O desenvolvimento da ciência empírica, que progride da observação de fenômenos particulares para a formulação de leis universais.
A ascensão da alma do mundo sensível (o interior da caverna) para o mundo inteligível (o exterior), um processo de educação filosófica que culmina na visão da Forma do Bem (representada pelo Sol).
O 'Contrato Social' é uma teoria que busca justificar a origem e a legitimidade do Estado. Para Jean-Jacques Rousseau, o contrato social que funda a república legítima não é um pacto de submissão a um governante, como em Hobbes. Trata-se de um pacto de associação no qual cada indivíduo se une a todos os outros. A cláusula fundamental desse pacto é:
A proteção da propriedade privada como o principal objetivo do Estado, garantindo os direitos adquiridos no estado de natureza.
A alienação total de cada associado, com todos os seus direitos, à comunidade inteira.
A delegação de poder a um grupo de representantes eleitos, que governarão em nome do povo.
A renúncia de cada associado a todos os seus direitos em favor de um soberano absoluto, em troca de segurança.
A filosofia de Martin Heidegger, em 'Ser e Tempo', busca resgatar a 'questão do Ser', que segundo ele foi esquecida pela tradição filosófica desde os gregos. Para abordar essa questão, ele realiza uma 'analítica existencial' do ente que tem uma compreensão pré-ontológica do Ser, ou seja, de nós mesmos. Heidegger chama esse ente de:
Alma, a substância imaterial e imortal que, segundo Platão, habita o corpo.
Dasein (Ser-aí ou Ser-no-mundo), o modo de ser específico do ser humano, cuja essência reside em sua existência e em sua relação com o mundo.
Übermensch (Além-do-Homem), o ideal nietzschiano do ser que supera a moralidade tradicional e cria seus próprios valores.
Sujeito, o termo da filosofia moderna que pressupõe uma consciência separada do mundo.
O Círculo de Viena, um grupo de filósofos e cientistas do início do século XX, foi o berço do positivismo lógico (ou empirismo lógico). Eles propuseram o 'critério de verificabilidade' para determinar se uma proposição tem significado cognitivo. Segundo este critério, uma proposição só tem sentido se for:
Capaz de inspirar bons sentimentos e promover a coesão social.
Consistente com as escrituras sagradas e com a tradição da Igreja.
Falseável por uma observação empírica, como proposto posteriormente por Karl Popper.
Uma tautologia (verdadeira por definição, como na lógica e na matemática) ou empiricamente verificável, pelo menos em princípio.
O Iluminismo, ou Século das Luzes, foi um movimento intelectual do século XVIII que enfatizava a razão, o individualismo e o ceticismo em relação às instituições tradicionais, como a Igreja e a Monarquia Absoluta. Immanuel Kant, em seu famoso ensaio 'Resposta à Pergunta: O que é Esclarecimento?', definiu o lema deste movimento como 'Sapere aude!'. Essa expressão latina significa:
'O homem é o lobo do homem', a descrição hobbesiana do estado de natureza.
'Conhece-te a ti mesmo', a inscrição no Oráculo de Delfos, central para a filosofia socrática.
'Penso, logo existo!', a primeira certeza do método cartesiano.
'Ousa saber!' ou 'Atreve-te a usar tua própria razão!', um chamado à autonomia intelectual e à saída da 'menoridade'.
A fenomenologia de Husserl influenciou profundamente o existencialismo. Jean-Paul Sartre, em 'O Ser e o Nada', adota o método fenomenológico, mas o aplica para descrever a estrutura da consciência humana em sua relação com o mundo. Ele distingue dois modos de ser fundamentais: o 'em-si' e o 'para-si'. O 'para-si' refere-se ao modo de ser da consciência, que é caracterizado por ser:
Pleno, maciço, idêntico a si mesmo, sem fissuras, como o ser de uma pedra ou de um objeto.
Uma substância pensante ('res cogitans'), uma entidade auto-suficiente que existe independentemente do mundo e do corpo.
O que não é, e não ser o que é. A consciência é uma falta de ser, uma nadificação, o que lhe confere liberdade absoluta e a capacidade de projetar-se no futuro.
Determinado por leis causais e pela sua essência, sem liberdade ou possibilidade de mudança.
Jean-Jacques Rousseau, em sua obra 'Do Contrato Social', apresenta uma teoria sobre a legitimidade do poder político. Ele argumenta que, para que a liberdade seja preservada na sociedade civil, cada cidadão deve se submeter não a um indivíduo ou a um grupo, mas à coletividade como um todo. Essa soberania popular se expressa através de um conceito fundamental, que representa o interesse comum e que é sempre reto e tende à utilidade pública. Este conceito é o de:
Vontade da Maioria, que é a soma dos votos em uma eleição e pode, por vezes, ser enganada ou favorecer interesses particulares.
Direito Divino dos Reis, teoria que afirmava que o poder do monarca emanava diretamente de Deus e era, portanto, inquestionável.
Estado de Natureza, a condição hipotética dos seres humanos antes da formação da sociedade, onde, para Rousseau, eles eram livres e bons.
Vontade Geral (volonté générale), que é a vontade do corpo político como um todo, visando o bem comum, e que não se confunde com a soma das vontades individuais.
Um filósofo do século XX critica a tradição metafísica ocidental, que ele chama de 'metafísica da presença', por sempre ter privilegiado a fala sobre a escrita. Segundo ele, a escrita é vista como secundária, uma mera representação da fala. Ele propõe um método chamado 'desconstrução', que busca mostrar as hierarquias e oposições (fala/escrita, presença/ausência, natureza/cultura) em um texto, revelando suas instabilidades e múltiplos significados. Esse pensador é:
Michel Foucault, que analisou as relações entre saber e poder e a formação histórica dos discursos (arqueologia do saber).
Jürgen Habermas, que desenvolveu a teoria do agir comunicativo, buscando as condições para um diálogo racional e livre de dominação.
Martin Heidegger, que questionou o 'esquecimento do Ser' na tradição filosófica e realizou uma análise existencial do Dasein (ser-aí).
Jacques Derrida, o principal proponente da desconstrução, que questionou a noção de um significado estável e presente no texto.
A teoria do conhecimento de Immanuel Kant, conhecida como idealismo transcendental, busca superar a oposição entre racionalismo e empirismo. Ele afirma que 'pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas'. Isso significa que o conhecimento é o resultado de uma síntese entre:
A dialética e a história, onde o conhecimento progride através da superação de contradições ao longo do tempo.
A fé e a razão, onde a fé ilumina os limites da capacidade de compreensão humana.
A matéria e a forma, conceitos aristotélicos que explicam a constituição dos seres no mundo.
As estruturas a priori da sensibilidade (espaço e tempo) e do entendimento (as categorias), e a matéria a posteriori que vem da experiência.
O conceito de 'banalidade do mal', cunhado pela filósofa Hannah Arendt, surgiu de suas observações do julgamento de Adolf Eichmann, um oficial nazista responsável pela logística do Holocausto. Arendt concluiu que o mal perpetrado por Eichmann não vinha de uma profunda maldade ou monstruosidade, mas sim de:
Um desejo sádico e demoníaco de infligir sofrimento a outras pessoas.
Uma doença mental grave que o impedia de distinguir o certo do errado.
Uma extraordinária falta de pensamento, uma incapacidade de refletir sobre o significado de suas ações e de se colocar no lugar dos outros.
Uma adesão fanática a uma ideologia de ódio racial, que ele ajudou a criar.
Em um debate sobre ética na tecnologia, uma participante argumenta que, ao avaliar se um novo aplicativo é bom ou ruim, não devemos olhar para as intenções de seus criadores nem para regras morais abstratas. Em vez disso, devemos focar nas consequências práticas de seu uso: ele aumenta a felicidade geral, o bem-estar e o prazer, e diminui a dor e o sofrimento para o maior número de pessoas possível? Essa abordagem ética, que julga a moralidade de uma ação com base em seus resultados, é conhecida como:
Contratualismo, que fundamenta a moral e a política em um acordo ou contrato social hipotético entre indivíduos racionais.
Utilitarismo, uma ética consequencialista, desenvolvida por Jeremy Bentham e John Stuart Mill, que busca maximizar a felicidade geral.
Ética das Virtudes, que, originada em Aristóteles, foca no caráter do agente moral e na busca por uma vida virtuosa (eudaimonia).
Ética Deontológica, que, associada a Kant, baseia a moralidade no cumprimento do dever e em regras universais (imperativo categórico).
O conceito de 'ideologia', no pensamento de Karl Marx, não se refere a qualquer conjunto de ideias ou a uma visão de mundo. Ele tem um sentido específico e crítico, designando um sistema de crenças, valores e representações que:
expressa de forma transparente e verdadeira a realidade econômica e social de uma época.
é criado por filósofos e cientistas de forma neutra para explicar o funcionamento da sociedade.
inverte ou mascara as contradições sociais, apresentando os interesses particulares da classe dominante como se fossem interesses universais e naturais.
serve para criticar a sociedade capitalista e despertar a consciência de classe do proletariado.
A Revolução Científica do século XVII foi marcada pela superação do modelo cosmológico aristotélico-ptolomaico (geocêntrico) e pela ascensão de um novo método de investigação da natureza. Um pensador que foi fundamental para a formulação desse novo método, defendendo a experimentação, o método indutivo e a ideia de que 'saber é poder', ou seja, que a ciência deve servir para dominar a natureza em benefício da humanidade, foi:
Isaac Newton, que culminou a revolução com sua teoria da gravitação universal, unificando a física terrestre e a celeste.
Francis Bacon, que em sua obra 'Novum Organum' criticou a lógica dedutiva aristotélica e propôs um novo método baseado na indução e na observação sistemática.
Galileu Galilei, que com seu telescópio fez observações que refutaram o modelo geocêntrico e defendeu a matematização da natureza.
René Descartes, que propôs um método dedutivo baseado na razão e na matemática, e desenvolveu uma física mecanicista.
A Escolástica foi o método de pensamento crítico dominante nas universidades medievais europeias, caracterizado por um forte apelo à autoridade (da Bíblia, dos Pais da Igreja) e pelo uso da lógica para resolver contradições. Uma obra que exemplifica perfeitamente o método escolástico ao apresentar uma questão, listar argumentos 'contra' (sed contra), argumentos 'a favor', dar uma 'solução' (respondeo) e depois refutar os argumentos iniciais é:
'A Suma Teológica' de Tomás de Aquino, uma obra monumental que utiliza o método da 'disputatio' para tratar de inúmeras questões teológicas e filosóficas.
'As Confissões' de Santo Agostinho, uma autobiografia espiritual e filosófica que explora a busca por Deus.
'O Nome da Rosa' de Umberto Eco, um romance histórico que se passa em um mosteiro medieval e debate questões filosóficas.
'O Guia dos Perplexos' de Maimônides, que busca conciliar a filosofia aristotélica com a teologia judaica.
No pensamento de Santo Agostinho, a questão do tempo é um profundo mistério filosófico. Em suas 'Confissões', ele se pergunta: 'Que é, pois, o tempo? Se ninguém mo pergunta, eu sei; se o quero explicar a quem mo pergunta, não o sei'. Sua análise o leva a concluir que o tempo não existe objetivamente no mundo exterior, mas é uma distensão da alma. O passado, o presente e o futuro correspondem a três faculdades da alma. São elas:
Plano, Execução e Avaliação.
Tese, Antítese e Síntese.
Memória (para o passado), Atenção ou Intuição (para o presente) e Expectativa (para o futuro).
Razão, Vontade e Sentimento.
Aristóteles, em sua obra 'Política', classifica as formas de governo com base em dois critérios: quantos governam (um, poucos ou muitos) e se o governo visa o bem comum ou o interesse particular dos governantes. Um governo de 'muitos' que visa o bem comum é chamado por ele de:
Tirania, a forma corrompida do governo de 'um', onde o tirano governa apenas para seu próprio benefício.
Democracia, que ele considerava uma forma corrompida, onde os pobres governam em seu próprio interesse.
Politeia ou República, a forma pura de governo de 'muitos', que mistura elementos da democracia e da oligarquia.
Oligarquia, a forma corrompida do governo de 'poucos', onde os ricos governam para si.
Aristóteles distingue entre 'justiça distributiva' e 'justiça corretiva'. A justiça corretiva (ou comutativa) lida com as relações entre indivíduos, sejam elas voluntárias (contratos) ou involuntárias (crimes). Seu objetivo é:
Promover a amizade e a cooperação entre os cidadãos, que é a base para uma comunidade política saudável.
Distribuir bens, honras e riquezas na comunidade de acordo com o mérito de cada um, seguindo uma proporção geométrica.
Restaurar o equilíbrio ou a igualdade que foi quebrada por uma ação injusta, tratando as partes como iguais perante a lei e seguindo uma proporção aritmética.
Adaptar a lei geral ao caso particular, buscando uma solução mais equitativa do que a aplicação estrita da lei.
Uma das críticas centrais que Karl Marx faz à economia política clássica (como a de Adam Smith e David Ricardo) é que ela trata as categorias do capitalismo (mercadoria, dinheiro, capital) como se fossem fatos naturais e eternos. Marx, ao contrário, busca mostrar que essas categorias são históricas e sociais. O processo pelo qual os produtos do trabalho humano e as relações sociais assumem a aparência de coisas autônomas e com vida própria, que governam seus criadores, é chamado por Marx de:
Alienação, o processo pelo qual o trabalhador se torna estranho ao produto de seu trabalho e a si mesmo.
Luta de classes, o conflito entre exploradores e explorados.
Mais-valia, a fonte do lucro capitalista, que é o valor do trabalho não pago ao trabalhador.
Fetichismo da mercadoria, a atribuição de um poder místico às mercadorias, obscurecendo as relações sociais de produção que lhes dão valor.
Na filosofia medieval, Avicena (Ibn Sina), um filósofo persa, desenvolveu um influente argumento para provar a existência da alma e sua distinção do corpo, conhecido como o argumento do 'Homem Voador'. Ele nos pede para imaginar um homem criado de repente no ar, com seus membros afastados para não se tocarem e com seus olhos vendados. Mesmo sem nenhuma percepção sensorial de seu corpo ou do mundo exterior, esse homem:
não teria consciência de nada, provando que a alma depende dos sentidos para existir.
entraria em pânico e desespero, mostrando que a alma precisa do corpo para se sentir segura.
imediatamente começaria a raciocinar sobre a existência de Deus para encontrar um sentido para sua situação.
teria certeza de sua própria existência como um 'eu' ou uma consciência, provando que a alma (ou o eu) é uma substância imaterial e independente do corpo.
A filosofia de Maquiavel, expressa em 'O Príncipe', representa uma ruptura com a tradição política clássica e medieval. Enquanto Platão, Aristóteles e os pensadores cristãos se preocupavam com o Estado ideal e a virtude moral do governante, Maquiavel foca na 'verità effettuale della cosa' (a verdade efetiva da coisa). Sua principal preocupação é:
Como educar o príncipe para que ele se torne um filósofo-rei, governando com base no conhecimento da verdade e da justiça.
Como o príncipe pode ser um bom cristão e governar de acordo com os mandamentos de Deus.
Como construir uma república justa, onde todos os cidadãos participem do governo e busquem o bem comum.
Como o príncipe pode conquistar e, principalmente, manter o poder, utilizando os meios que forem necessários para garantir a estabilidade do Estado.
Em sua crítica à razão, a Escola de Frankfurt diferencia a 'razão instrumental' da 'razão crítica'. A razão instrumental, que se tornou dominante na sociedade moderna, é caracterizada por:
Ser uma forma de intuição intelectual que permite o acesso direto às verdades metafísicas e aos valores morais universais.
Ser um método dialético de pensamento que busca expor e superar as contradições presentes na realidade social.
Ser uma ferramenta de cálculo e eficiência, preocupada apenas em encontrar os meios mais eficazes para atingir fins que não são questionados.
Ser a faculdade de refletir sobre os fins últimos da vida humana e sobre a constituição de uma sociedade justa e emancipada.
René Descartes, em suas 'Meditações Metafísicas', estabelece o 'Cogito, ergo sum' ('Penso, logo existo') como a primeira certeza indubitável. A partir daí, ele precisa provar a existência de Deus para garantir a veracidade de suas ideias claras e distintas e, assim, reconstruir o edifício do conhecimento. Um dos argumentos que ele utiliza parte da ideia de Deus que ele encontra em sua própria mente. O argumento pode ser resumido assim:
O universo é tão complexo e ordenado que deve ter sido criado por um projetista inteligente, que é Deus.
Eu tenho em mim a ideia de um ser perfeito (infinito, onipotente, onisciente). Como eu sou um ser imperfeito, não posso ter sido a causa dessa ideia. Portanto, a causa da ideia de perfeição deve ser um ser realmente perfeito, que é Deus.
Deus é definido como o ser do qual nada maior pode ser pensado. Um ser que existe na realidade é maior do que um que existe apenas no pensamento. Logo, Deus deve existir na realidade.
Tudo o que se move é movido por outro. Essa cadeia de motores não pode ser infinita. Logo, deve haver um primeiro motor imóvel, que é Deus.
No período medieval, a filosofia esteve amplamente a serviço da teologia. Uma das grandes sínteses desse período foi realizada por Tomás de Aquino, que adaptou o pensamento de um filósofo da antiguidade para criar uma base racional sólida para o cristianismo. Sua obra buscou demonstrar que fé e razão não se contradizem, sendo ambas dons de Deus. O filósofo antigo que serviu de principal fundamento para o Tomismo foi:
Heráclito, cujas ideias sobre o devir e a mudança contínua foram consideradas incompatíveis com a imutabilidade de Deus.
Aristóteles, cujos conceitos de ato e potência, substância, causa final e motor imóvel foram centrais para a metafísica e as provas da existência de Deus em Tomás de Aquino.
Platão, cuja teoria das Ideias influenciou profundamente o pensamento de Santo Agostinho e a patrística.
Demócrito, cujo materialismo atomista foi rejeitado por ser considerado uma doutrina ateísta.
A 'dignidade humana' é um conceito central na filosofia moral e política, especialmente desde Kant. Para ele, as coisas no mundo têm um 'preço', podem ser trocadas ou substituídas por algo equivalente. Os seres humanos, no entanto, não têm preço, mas sim 'dignidade'. Isso se deve ao fato de que os seres humanos são:
Os únicos seres capazes de sentir prazer e dor de forma complexa.
Os seres mais fortes e evoluídos do planeta, no topo da cadeia alimentar.
Dotados de uma alma imortal, criada à imagem e semelhança de Deus.
Fins em si mesmos, por sua capacidade de autonomia, ou seja, de agir segundo leis que dão a si mesmos através da razão.
O filósofo pré-socrático Pitágoras e sua escola, os pitagóricos, tinham uma visão peculiar da 'arché', o princípio fundamental do universo. Para eles, a realidade não era constituída por um elemento material como a água ou o ar, mas por:
Uma luta constante entre opostos, governada pelo Logos.
Átomos indivisíveis e pelo vazio.
Um Ser uno, eterno e imutável, sendo a mudança uma ilusão.
Números e relações matemáticas. Todas as coisas são, em sua essência, número.
A ética aristotélica é teleológica, ou seja, está orientada para um fim (telos), que é a eudaimonia (felicidade). Para alcançar esse fim, é necessário desenvolver as virtudes. Aristóteles distingue entre virtudes morais (éticas), como a coragem e a temperança, e virtudes intelectuais (dianoéticas). A virtude intelectual que permite ao agente deliberar corretamente sobre o que é bom e conveniente para viver bem em geral, encontrando o meio-termo nas ações, é a:
Sabedoria teórica (Sophia), o conhecimento das verdades universais e necessárias, como na matemática e na metafísica.
Ciência (Episteme), a capacidade de demonstração a partir de princípios.
Prudência ou sabedoria prática (Phronesis), a excelência na deliberação sobre as ações humanas no campo do contingente.
Inteligência intuitiva (Nous), a capacidade de apreender os primeiros princípios de uma ciência.
Na Grécia Antiga, o surgimento da 'pólis' (cidade-Estado) foi um evento crucial para o desenvolvimento da filosofia e da política. A pólis se caracterizava pela existência de um espaço público, a 'ágora', onde os cidadãos se reuniam para debater e decidir sobre os assuntos da comunidade. Essa prática exigia um novo tipo de discurso, que não se baseava na autoridade divina ou na tradição, mas na capacidade de argumentação racional e persuasão. Este novo uso da palavra é o fundamento do:
Discurso Poético, que utiliza a linguagem de forma artística para expressar emoções e contar histórias épicas.
Discurso Mítico, que narra as origens do mundo e dos deuses através de histórias sagradas.
Discurso Filosófico e Político, que busca a verdade e a melhor decisão através do debate, da lógica e da apresentação de razões.
Discurso Profético, no qual um indivíduo inspirado por uma divindade revela o futuro ou a vontade dos deuses.
A filosofia de G. W. F. Hegel é um 'idealismo absoluto'. Para ele, a realidade última não é a matéria, mas a Ideia, a Razão ou o Espírito (Geist). A história universal não é uma sucessão de eventos caóticos, mas o processo racional pelo qual o Espírito se desenvolve e toma consciência de si mesmo, buscando a liberdade. O fim da história, para Hegel, seria alcançado quando:
O homem superasse a moralidade tradicional e se tornasse o Übermensch, como em Nietzsche.
O Espírito alcançasse o saber absoluto, ou seja, a plena autoconsciência de si mesmo como a totalidade da realidade, o que Hegel via como se realizando em seu próprio sistema filosófico e no Estado prussiano de sua época.
A humanidade retornasse a um estado de natureza idílico, livre da corrupção da sociedade e da propriedade privada, como idealizava Rousseau.
A sociedade sem classes fosse estabelecida, pondo fim à luta de classes e à alienação, como pensava Marx.
A filosofia de Friedrich Nietzsche é conhecida por sua crítica radical aos valores tradicionais da filosofia e da moral judaico-cristã. Ele propõe uma 'transvaloração de todos os valores', superando a moralidade de 'senhores' e 'escravos'. Um conceito central em seu pensamento para descrever o ser humano que supera a si mesmo, cria seus próprios valores e diz 'sim' à vida em todos os seus aspectos, inclusive o sofrimento, é o de:
Sujeito Transcendental, conceito kantiano que se refere às estruturas a priori da consciência que tornam o conhecimento possível.
Bom Selvagem (Bon Sauvage), idealizado por Rousseau como o homem em seu estado natural, não corrompido pela sociedade.
Übermensch (Além-do-Homem ou Super-Homem), o tipo superior que representa o objetivo da humanidade de superar o niilismo.
Zoon Politikon (Animal Político), termo de Aristóteles para descrever a natureza social e política do ser humano.
A 'vontade de poder' (Wille zur Macht) é um conceito central, porém complexo, na filosofia de Friedrich Nietzsche. Ele não se refere simplesmente ao desejo de dominar os outros, mas a um impulso fundamental que permeia toda a realidade. A vontade de poder é entendida como:
O impulso de autoconservação, o desejo de todos os seres vivos de simplesmente continuar existindo.
O desejo de alcançar a tranquilidade da alma (ataraxia) através da eliminação de desejos e medos desnecessários.
A força fundamental de todo ser para expandir sua potência, crescer, superar a si mesmo e impor suas próprias formas e interpretações ao mundo.
A luta de classes, o conflito entre a burguesia e o proletariado que move a história, segundo Marx.
Na filosofia da ciência, o 'problema da demarcação' busca estabelecer um critério para distinguir a ciência genuína da pseudociência (como a astrologia ou a psicanálise, segundo alguns). Karl Popper propôs um critério influente, argumentando que o que torna uma teoria científica não é o fato de ela ser verificável (pois muitas teorias podem encontrar confirmações), mas sim o fato de ela ser:
Útil e aplicável, gerando tecnologias que melhoram a vida humana.
Consistente com o senso comum e com as crenças estabelecidas pela tradição.
Falseável ou refutável, ou seja, a teoria deve fazer previsões arriscadas que, se não se confirmarem, provarão que a teoria está errada.
Elegante e simples, seguindo o princípio da Navalha de Ockham, que prefere as explicações mais econômicas.
Tales de Mileto, considerado por muitos o primeiro filósofo, rompeu com as explicações míticas ao propor que a 'arché' (princípio originário de todas as coisas) seria a água. A importância dessa proposição para o nascimento da filosofia reside no fato de que ela:
provou cientificamente que a água é o elemento fundamental de toda a matéria existente no universo.
estabeleceu o método dialético de perguntas e respostas para refutar as narrativas mitológicas sobre a criação do mundo.
inaugurou uma forma de investigação baseada na observação da natureza e na busca por uma causa racional e natural para a realidade.
utilizou uma entidade divina, como o deus Oceano, para explicar a origem do cosmos de forma racional.
A ética da responsabilidade, proposta por Hans Jonas em 'O Princípio Responsabilidade', é uma resposta aos novos desafios éticos criados pelo poder da tecnologia moderna. Jonas argumenta que as éticas tradicionais (como a de Kant ou o utilitarismo) são inadequadas porque foram pensadas para ações de curto alcance. A nova ética deve ser orientada para o futuro e ter como seu primeiro imperativo:
A garantia da sobrevivência e da integridade da humanidade e da natureza para as gerações futuras.
A maximização da felicidade e do prazer para a geração presente.
A obediência incondicional às leis e aos deveres morais, independentemente das consequências.
O desenvolvimento da autonomia individual e a busca pela autorrealização pessoal.
Um cientista do século XVII, ao desenvolver seu método de investigação, decide duvidar de tudo o que conhecia, incluindo as informações dos sentidos e as verdades matemáticas. Seu objetivo era encontrar um ponto de partida absolutamente indubitável para construir um novo sistema de conhecimento. Ele conclui que, mesmo que duvidasse de tudo, não poderia duvidar de sua própria existência como ser pensante. Essa jornada metodológica é a base do pensamento de:
René Descartes, que utilizou a dúvida metódica para chegar à primeira certeza, o 'Cogito, ergo sum' (Penso, logo existo).
Francis Bacon, que propunha um método empírico baseado na observação e experimentação para eliminar ídolos da mente.
David Hume, que levou o empirismo a um ceticismo radical, questionando a causalidade e a identidade do eu.
John Locke, que argumentava que a mente é uma 'tábula rasa' e que todo conhecimento deriva da experiência sensorial.
A Fenomenologia, corrente filosófica fundada por Edmund Husserl, propõe um método para chegar à essência das coisas. Esse método envolve a 'epoché', ou suspensão do juízo sobre a existência do mundo exterior e de nossas crenças habituais (a 'atitude natural'), para focar apenas em como os fenômenos se apresentam à consciência. O objetivo dessa suspensão é:
Analisar as estruturas da experiência tal como ela é vivida, descrevendo a essência dos fenômenos sem as pressuposições da ciência ou do senso comum.
Desenvolver uma terapia para curar a angústia existencial, mostrando que a realidade externa é indiferente ao sujeito.
Provar que o mundo exterior não existe, defendendo uma forma de idealismo radical onde tudo é apenas consciência.
Superar a distinção entre sujeito e objeto, mostrando que a realidade é um fluxo contínuo de experiências.
Baruch Spinoza, um dos grandes racionalistas do século XVII, desenvolveu um sistema metafísico monista. Diferente de Descartes, que via mente e corpo como substâncias distintas, Spinoza afirmava que existe apenas uma única substância infinita, que ele chama de 'Deus sive Natura' (Deus, ou seja, a Natureza). Pensamento e extensão (matéria) não são substâncias, mas sim:
Criações de Deus, entidades separadas que foram trazidas à existência pela vontade divina a partir do nada.
Ilusões da nossa mente, que erroneamente percebe uma dualidade onde há apenas unidade.
Atributos de Deus, que são as infinitas maneiras pelas quais a essência da substância única se expressa, das quais conhecemos apenas o pensamento e a extensão.
Modos finitos, que são as manifestações particulares e transitórias da substância única, como uma mente individual ou um corpo particular.
Um professor de filosofia desenha uma linha na lousa e a divide em dois segmentos principais: Mundo Sensível e Mundo Inteligível. O primeiro, ele subdivide em 'Sombras/Imagens' e 'Coisas Físicas'. O segundo, em 'Objetos Matemáticos' e 'Formas/Ideias'. Ele explica que essa é uma representação da jornada do conhecimento, da ignorância (doxa) à verdade (episteme). Este esquema é conhecido como:
A Alegoria da Caverna de Platão.
O Organon de Aristóteles.
A Doutrina do Meio-Termo de Aristóteles.
A Analogia da Linha Dividida de Platão.
Em sua análise da modernidade, o filósofo Zygmunt Bauman utiliza a metáfora da 'liquidez' para descrever a condição da sociedade contemporânea. Em contraste com a 'modernidade sólida' (com suas estruturas fixas, instituições duradouras e identidades estáveis), a 'modernidade líquida' é caracterizada por:
Um forte controle do Estado sobre todos os aspectos da vida individual e social.
A crença inabalável no progresso, na ciência e na capacidade da razão de construir uma sociedade perfeita.
A permanência de valores tradicionais e de laços comunitários fortes que resistem à mudança.
Relações sociais, instituições e identidades que são frágeis, fluidas, voláteis e de curto prazo.
A filosofia pré-socrática investigava a 'physis' (natureza) em busca da 'arché' (princípio fundamental). Parmênides de Eleia introduziu uma mudança radical, focando na questão do 'Ser'. Sua tese fundamental, expressa em seu poema, pode ser resumida como:
'O homem é a medida de todas as coisas', a verdade é relativa a cada indivíduo ou cultura, não existindo um Ser absoluto.
'O Ser é, o não-Ser não é', o Ser é uno, eterno, imutável, imóvel e indivisível, e qualquer mudança ou movimento é uma ilusão dos sentidos.
Tudo é composto por átomos e pelo vazio, partículas indivisíveis que se movem e se combinam para formar a realidade.
'Tudo flui' (panta rhei), o Ser está em constante mudança e transformação, sendo impossível entrar no mesmo rio duas vezes.
O dualismo de Platão distingue radicalmente o corpo (soma) e a alma (psyché). O corpo é visto como parte do mundo sensível, mutável, corruptível e uma fonte de enganos e desejos que aprisionam a alma. A alma, por sua vez, é de natureza divina, imortal e pertence ao mundo inteligível. Nesse contexto, a morte é vista por Platão como:
A dissolução da identidade pessoal, onde a alma se funde com uma alma universal ou com a natureza.
Uma passagem para um outro mundo onde o indivíduo será julgado com base em suas crenças religiosas, não em seu conhecimento filosófico.
O fim definitivo da existência e da consciência, um evento a ser temido e evitado a todo custo.
Uma libertação da alma do cárcere do corpo, permitindo que ela retorne ao mundo das Formas para contemplar a verdade em sua pureza.
Edmund Husserl, o fundador da fenomenologia, criticou o 'psicologismo', a tendência de reduzir a lógica e a matemática a processos mentais subjetivos. Para ele, a fenomenologia deveria ser uma ciência rigorosa das 'essências'. O método que ele propõe para chegar a essas essências, que envolve a suspensão de todas as crenças sobre o mundo factual e o foco na estrutura da experiência consciente, é chamado de:
Método dialético, que progride através da superação de contradições.
Análise linguística, que busca dissolver os problemas filosóficos mostrando que eles surgem de um mau uso da linguagem.
Análise genealógica, que investiga a origem histórica dos conceitos para mostrar suas relações com o poder.
Redução fenomenológica ou Epoché, que coloca o mundo 'entre parênteses' para descrever os fenômenos como eles se dão à consciência.
O conceito de 'angústia' (Angst) é central para vários filósofos existenciais, mas com nuances diferentes. Para Søren Kierkegaard, considerado o pai do existencialismo, a angústia é a 'vertigem da liberdade'. Ela surge quando o indivíduo se depara com:
A responsabilidade de legislar para toda a humanidade através de suas escolhas, como em Sartre.
O medo da morte e do nada, que revela a finitude da existência humana.
A infinidade de possibilidades de escolha que se abrem diante dele, sem ter nenhuma garantia ou critério externo para decidir.
O sentimento de absurdo que nasce do confronto entre o desejo humano de sentido e o silêncio irracional do mundo, como em Camus.
O materialismo histórico, método de análise da sociedade desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels, postula que as transformações históricas são impulsionadas fundamentalmente por fatores materiais. A base de uma sociedade, que determina em última instância suas outras esferas (política, jurídica, cultural), é chamada de:
Superestrutura, que compreende as instituições políticas e jurídicas, bem como as formas de consciência social (ideologia).
Infraestrutura ou base econômica, que consiste nas forças produtivas (ferramentas, tecnologia, trabalho) e nas relações de produção (propriedade, classes sociais).
Alienação, o processo pelo qual o trabalhador se torna estranho ao produto de seu trabalho, a si mesmo e aos outros.
Luta de classes, que é o 'motor da história', o conflito entre a classe que detém os meios de produção e a classe explorada.
Ao investigar as origens da desigualdade, Jean-Jacques Rousseau argumenta que o momento decisivo que pôs fim ao estado de natureza e deu origem à sociedade civil e a todos os seus males foi quando um indivíduo:
assinou um contrato social com todos os outros para criar um governo que protegesse a vida e a segurança de todos.
desenvolveu sentimentos de amor e ciúme, o que levou à competição e ao conflito entre os homens.
usou a razão para criar a linguagem, permitindo a comunicação complexa e a formação de laços sociais permanentes.
cercou um terreno e disse 'isto é meu', encontrando pessoas ingênuas o suficiente para acreditar nele, fundando assim a propriedade privada.
Em sua análise do poder, Michel Foucault argumenta que, na modernidade, o poder não se exerce apenas de forma repressiva (como a lei que proíbe), mas também de forma produtiva. Ele descreve um tipo de poder que se aplica aos corpos dos indivíduos para torná-los dóceis e úteis, através de técnicas de vigilância, treinamento e exame em instituições como prisões, escolas, hospitais e fábricas. Foucault chama esse poder de:
Poder Disciplinar, uma microfísica do poder que adestra os corpos e maximiza sua eficiência.
Poder Pastoral, um modelo de poder que se origina nas práticas cristãs, onde um pastor cuida de seu rebanho individualmente.
Poder Soberano, o poder típico da monarquia, que se manifesta no direito de 'fazer morrer ou deixar viver'.
Biopoder, um poder que se exerce sobre a vida da população como um todo, gerenciando nascimentos, mortes, saúde e longevidade.
Michel Foucault, em 'A História da Sexualidade', argumenta que a era vitoriana, ao contrário da crença popular, não foi uma época de silêncio sobre o sexo, mas sim uma época de proliferação de discursos sobre ele. Ele descreve a emergência de uma 'scientia sexualis' (ciência do sexo) que, através de confissões, exames médicos e classificações psiquiátricas, produziu um novo tipo de poder. Esse poder não apenas reprime, mas incita os indivíduos a falar sobre seu sexo, a fim de:
Controlar, administrar e normalizar a sexualidade dos indivíduos, ligando-a à saúde da população e à gestão social.
Celebrar a diversidade das práticas sexuais e eliminar qualquer forma de preconceito ou discriminação.
Provar que a única forma natural e saudável de sexualidade é a heterossexualidade reprodutiva.
Promover a libertação sexual e a igualdade de gênero na sociedade.
A bioética é um campo de estudo interdisciplinar que surge para lidar com questões morais complexas levantadas pelos avanços da biologia e da medicina. Um dos princípios fundamentais da bioética, que estabelece o dever de não causar dano intencional a um paciente ou participante de pesquisa, é o princípio da:
Autonomia, que reconhece o direito do indivíduo de decidir sobre seu próprio corpo e tratamento, expresso, por exemplo, no consentimento informado.
Beneficência, que impõe a obrigação de agir no melhor interesse do paciente, maximizando os benefícios e promovendo seu bem-estar.
Não maleficência, resumido pelo antigo aforismo hipocrático 'primum non nocere' (primeiro, não prejudicar).
Justiça, que exige a distribuição equitativa dos recursos de saúde e a imparcialidade no tratamento dos pacientes.
A teoria crítica da sociedade, desenvolvida pela Escola de Frankfurt, diferencia-se da teoria tradicional por seu engajamento político e seu objetivo emancipatório. Em vez de apenas descrever ou explicar a realidade social 'como ela é', a teoria crítica busca:
Alcançar uma objetividade neutra e livre de valores, separando completamente o trabalho do cientista social de suas convicções políticas.
Diagnosticar as patologias e as formas de dominação presentes na sociedade contemporânea, com o objetivo de promover a libertação humana.
Criar um modelo matemático da sociedade para prever o comportamento de grandes populações com precisão.
Justificar e legitimar a ordem social existente, mostrando como suas instituições são racionais e necessárias.
Um ativista dos direitos civis, ao organizar um protesto não-violento, cita um filósofo que afirmava: 'A existência precede a essência'. Ele explica que isso significa que os seres humanos não nascem com uma natureza ou um propósito predefinido. Primeiro, eles existem, se encontram no mundo, e só depois, através de suas escolhas e ações, definem quem são. Somos, portanto, radicalmente livres e responsáveis por criar nossos próprios valores. Essa ideia é o pilar central de qual corrente filosófica?
O Positivismo, que acredita no progresso através da ciência e busca leis universais para explicar os fenômenos sociais.
O Estruturalismo, que analisa as estruturas subjacentes da linguagem e da sociedade que determinam o comportamento humano.
O Existencialismo, particularmente o de Jean-Paul Sartre, que coloca a liberdade, a escolha e a responsabilidade individual no centro da condição humana.
O Marxismo, que entende a essência humana como sendo determinada pelas relações sociais e históricas, especialmente as relações de produção.
Na 'Crítica da Razão Pura', Kant estabelece que o nosso conhecimento se limita ao mundo dos 'fenômenos' (as coisas como elas aparecem para nós, estruturadas pelas nossas faculdades cognitivas). A realidade tal como ela é 'em si mesma', independentemente da nossa percepção, é chamada por Kant de:
Vontade, a força cega e irracional que constitui a essência do mundo, segundo Schopenhauer.
Substância, a realidade fundamental que possui atributos como pensamento e extensão, segundo Spinoza.
Nôumeno ou Coisa-em-si (Ding an sich), que é pensável como a causa dos fenômenos, mas incognoscível para nós.
Mundo das Ideias, o reino das formas perfeitas e eternas de Platão.
A dialética é um método filosófico baseado no diálogo e no conflito de ideias opostas. Na filosofia de Hegel, a dialética descreve o movimento do pensamento e da própria realidade, que progride através de um processo de três momentos. Estes momentos são:
Tese (uma afirmação), Antítese (a negação da afirmação) e Síntese (a superação e conservação das duas anteriores em um nível superior).
Impressões (dados sensoriais imediatos) e Ideias (cópias enfraquecidas das impressões), os elementos básicos do conhecimento para Hume.
Doxa (opinião), Episteme (ciência) e Sofia (sabedoria), os graus de conhecimento em Platão.
Estado Teológico, Estado Metafísico e Estado Positivo, os três estágios da evolução do pensamento humano segundo Comte.
A filosofia de Arthur Schopenhauer é profundamente influenciada pelo pensamento de Kant, mas também pela filosofia indiana. Ele concorda com Kant que o mundo que conhecemos é 'representação', um fenômeno moldado pelas estruturas do nosso intelecto. No entanto, ele afirma que podemos ter um acesso à 'coisa-em-si', a realidade última por trás dos fenômenos. Essa realidade não é racional, mas uma força cega, irracional e incessante que ele chama de:
Espírito Absoluto (Geist), a razão universal que se desenvolve e se autoconhece através da história, segundo Hegel.
Substância Divina, a realidade única e perfeita que se expressa em infinitos atributos, como em Spinoza.
Dasein (Ser-aí), a forma particular de ser do ente humano, que é caracterizado pela sua existência e pela compreensão do Ser, como em Heidegger.
Vontade (Wille), um impulso cósmico fundamental de querer, desejar e lutar, que é a fonte de todo o sofrimento no mundo.
A 'navalha de Ockham' é um princípio metodológico e filosófico atribuído a Guilherme de Ockham, um frade franciscano e filósofo do século XIV. O princípio, em sua formulação mais comum ('entidades não devem ser multiplicadas além da necessidade'), pode ser interpretado como uma defesa da:
Dúvida, propondo que devemos sempre questionar a existência de qualquer entidade que não possa ser diretamente observada.
Fé, argumentando que devemos aceitar as verdades da religião mesmo que elas envolvam entidades misteriosas e complexas.
Complexidade, afirmando que as explicações mais detalhadas e com mais entidades são sempre as melhores.
Simplicidade ou parcimônia, sugerindo que, entre duas teorias que explicam o mesmo fenômeno, devemos preferir a mais simples, aquela que postula o menor número de entidades.
O filósofo Walter Benjamin, associado à Escola de Frankfurt, em seu famoso ensaio 'A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica', argumenta que as novas tecnologias de reprodução, como a fotografia e o cinema, alteram fundamentalmente a natureza da obra de arte. O que a obra de arte perde nesse processo é sua:
Beleza, pois as cópias são sempre esteticamente inferiores ao original.
Complexidade, pois as novas mídias só são capazes de produzir formas de arte simples e superficiais.
Valor de mercado, pois a abundância de cópias faz com que o preço da arte diminua drasticamente.
Aura, sua existência única no tempo e no espaço, seu 'aqui e agora', sua autenticidade e sua autoridade ligada à tradição e ao ritual.
Os Sofistas, como Protágoras e Górgias, eram mestres de retórica na Atenas do século V a.C. Eles foram duramente criticados por Platão por, supostamente, ensinarem a arte de persuadir sobre qualquer assunto, independentemente da verdade. A famosa frase de Protágoras, 'O homem é a medida de todas as coisas', expressa uma posição filosófica conhecida como:
Idealismo, a teoria de que a realidade última é de natureza mental ou espiritual, consistindo em ideias ou formas.
Ceticismo, a visão de que o conhecimento é impossível e que devemos suspender o juízo sobre todas as coisas.
Relativismo, a doutrina de que a verdade e a moralidade não são absolutas, mas relativas ao indivíduo ou à cultura.
Absolutismo, a crença de que existem verdades universais e objetivas, válidas para todos os seres humanos.
A teoria da 'ação social' de Max Weber é fundamental para a sociologia compreensiva. Weber define a ação social como qualquer ação humana à qual o agente atribui um sentido subjetivo, e que é orientada pela ação de outros. Ele propõe quatro tipos ideais de ação social. A ação que é determinada por um cálculo racional de meios e fins, buscando a máxima eficiência para atingir um objetivo, é a:
Ação racional com relação a valores, orientada por uma crença em um valor (ético, estético, religioso), independentemente do sucesso.
Ação tradicional, orientada pelo costume ou pelo hábito.
Ação afetiva, determinada por emoções ou estados sentimentais.
Ação racional com relação a fins, orientada por expectativas quanto ao comportamento de objetos e de outros homens como meio para alcançar fins próprios.
Simone Weil, uma filósofa e mística do século XX, desenvolveu uma crítica profunda ao trabalho na sociedade industrial. Ela argumentava que o trabalho fabril, repetitivo e desprovido de sentido, oprime não apenas o corpo, mas também a alma e o pensamento do trabalhador, causando um estado de 'desgraça' (malheur). Para ela, a única forma de redenção no trabalho seria através de uma transformação que o tornasse:
Um instrumento de luta política para a tomada do poder pelo proletariado.
Mais bem remunerado, pois um salário maior compensaria o sofrimento e a alienação.
Uma forma de 'atenção', onde o trabalhador, mesmo em tarefas monótonas, pudesse exercer sua inteligência e sua espiritualidade, vendo a beleza na matéria e na necessidade.
Totalmente automatizado, eliminando a necessidade de qualquer esforço humano.
No contexto da filosofia helenística, uma escola de pensamento defendia que o objetivo da vida era alcançar a 'ataraxia', um estado de tranquilidade e ausência de perturbação da alma. Para isso, o indivíduo deveria evitar os prazeres passageiros e as dores, buscando um prazer moderado e duradouro, que consistia principalmente na amizade, na reflexão e na ausência de medo (da morte e dos deuses). Essa filosofia é conhecida como:
Cinismo, que defendia o desprezo pelas convenções sociais, a autossuficiência e uma vida simples e natural, como a de um cão.
Estoicismo, que pregava a aceitação do destino, o controle das paixões e a vida em acordo com a natureza (logos).
Epicurismo, fundado por Epicuro, que propunha um hedonismo calculado, buscando o prazer moderado e a paz de espírito no 'Jardim'.
Ceticismo, que afirmava a impossibilidade de se alcançar qualquer verdade definitiva e, por isso, defendia a suspensão do juízo (epoché).
Heráclito de Éfeso, um filósofo pré-socrático, ficou conhecido por sua doutrina do 'devir' (vir-a-ser). Sua famosa afirmação de que 'não se pode entrar duas vezes no mesmo rio' ilustra sua ideia de que a realidade está em constante fluxo e transformação. Para Heráclito, a harmonia do cosmos não reside na estabilidade, mas em uma tensão dinâmica entre opostos (quente/frio, dia/noite, guerra/paz). O princípio que governa essa mudança constante e unifica os opostos é o:
Nous (Mente ou Intelecto), uma força externa que, para Anaxágoras, ordenou a mistura primordial de todas as coisas, dando origem ao cosmos.
Logos, uma razão universal, uma lei subjacente que ordena todo o fluxo do devir e que a alma humana pode compreender.
Amor e Ódio, duas forças cósmicas que, segundo Empédocles, atuam para unir e separar os quatro elementos fundamentais (terra, água, ar, fogo).
Ápeiron (o ilimitado), um princípio indefinido e infinito do qual todas as coisas se originam e para o qual retornam, como proposto por Anaximandro.
A teoria do conhecimento de Aristóteles difere fundamentalmente da de seu mestre, Platão. Enquanto Platão acreditava que o conhecimento verdadeiro vinha da recordação de Formas inteligíveis, Aristóteles era um empirista. Para ele, todo conhecimento começa com a experiência sensível. O processo pelo qual o intelecto extrai o universal (a forma ou essência) a partir dos dados particulares fornecidos pelos sentidos é chamado de:
Dedução, o raciocínio que parte de premissas universais para chegar a uma conclusão particular, como no silogismo.
Anamnese, a recordação das Ideias contempladas pela alma antes do nascimento.
Dúvida metódica, o processo de questionar todas as crenças para encontrar uma certeza fundamental.
Indução (epagoge), a passagem do particular para o universal.
O imperativo categórico é o princípio supremo da moralidade na filosofia de Immanuel Kant. Ele é 'categórico' porque se aplica a todos os seres racionais incondicionalmente, independentemente de seus desejos ou fins particulares. Uma de suas formulações mais conhecidas, a 'fórmula da humanidade', afirma que devemos:
Agir de modo a produzir a maior felicidade para o maior número de pessoas.
Agir de acordo com a virtude, buscando um meio-termo entre dois extremos viciosos.
Agir de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio.
Agir em conformidade com a natureza, aceitando o destino e controlando as paixões que nos perturbam.
Na filosofia da mente, uma questão central é o problema mente-corpo. O dualismo, classicamente formulado por Descartes, postula que mente (substância pensante, 'res cogitans') e corpo (substância extensa, 'res extensa') são duas entidades radicalmente distintas. Um dos principais desafios para essa teoria, conhecido como o problema da interação, consiste em explicar:
Como a mente, sendo imaterial e não-espacial, pode causar eventos no corpo, que é material e espacial, e vice-versa.
Se os animais não-humanos possuem mentes ou se são meros autômatos, como Descartes sugeriu.
Como é possível que tenhamos conhecimento de outras mentes, se só temos acesso direto à nossa própria consciência.
Como as ideias inatas, como a de Deus, estão presentes na mente desde o nascimento sem terem vindo da experiência.
Em sua análise do 'Panóptico' de Jeremy Bentham, um projeto de prisão ideal, Michel Foucault vê um modelo para o funcionamento do poder na sociedade disciplinar. A principal característica do Panóptico é a sua arquitetura, que consiste em uma torre central de vigilância e celas dispostas em um anel ao redor. A eficácia desse dispositivo de poder reside no fato de que:
O prisioneiro sabe que pode estar sendo vigiado a qualquer momento, mas não sabe quando está sendo vigiado de fato. Isso o leva a internalizar a vigilância e a se comportar como se estivesse sempre sendo observado.
Os prisioneiros podem se comunicar uns com os outros, formando um senso de comunidade e solidariedade.
O prisioneiro é constantemente visto pelo vigia na torre central, sem nunca poder vê-lo.
A punição física é aplicada de forma exemplar no centro do pátio, para que todos os prisioneiros vejam e temam o poder do soberano.
Um estudante de teologia medieval debate sobre a natureza da fé e da razão. Ele defende que, embora a razão humana seja uma ferramenta valiosa dada por Deus, ela é limitada e deve ser iluminada pela fé para compreender as verdades divinas mais profundas. A razão prepara o caminho, mas a fé o completa. Essa tentativa de harmonizar fé e razão, dando primazia à iluminação divina, é característica de qual corrente filosófica?
Tomismo, que, influenciado por Aristóteles, busca uma síntese mais equilibrada entre fé e razão, onde ambas são vias autônomas para o conhecimento.
Nominalismo, que questiona a existência de universais e foca na singularidade dos indivíduos, separando drasticamente fé e razão.
Averroísmo latino, que defendia a doutrina da 'dupla verdade', sugerindo que uma proposição poderia ser verdadeira na filosofia e falsa na fé, e vice-versa.
Agostinismo, que, baseado em Platão, postula a teoria da iluminação divina, onde a verdade é alcançada quando a mente é iluminada pela graça de Deus.
A filosofia política de Platão, como descrita em 'A República', é antidemocrática. Ele critica a democracia ateniense por ser um regime instável, governado pela opinião (doxa) e pelas paixões da multidão, em vez da razão e do conhecimento (episteme). Para Platão, a competência para governar não é um direito de todos, mas uma habilidade que requer um longo e árduo processo de educação. Por isso, a cidade ideal deveria ser governada por:
Os mais ricos, pois teriam mais interesse na estabilidade e prosperidade da cidade.
Um conselho de cidadãos idosos, que por sua experiência de vida teriam mais sabedoria.
Guerreiros corajosos, que seriam mais capazes de defender a cidade contra seus inimigos.
Filósofos-Reis, aqueles que, através da dialética, ascenderam do mundo sensível ao mundo inteligível e contemplaram a Forma do Bem.
Os Cínicos, como Diógenes de Sínope, foram filósofos helenísticos conhecidos por seu estilo de vida radical e provocador. Eles defendiam a 'autarkeia' (autossuficiência) e a vida em conformidade com a natureza, em oposição radical às leis, costumes e convenções sociais ('nomos'), que consideravam artificiais e fontes de corrupção. A prática filosófica do Cinismo consistia em:
Participar ativamente da política da pólis para reformar as leis e torná-las mais naturais e justas.
Desenvolver um sistema lógico e metafísico complexo para provar que a natureza é superior à convenção.
Realizar atos públicos chocantes e viver com o mínimo de posses (como Diógenes, que morava em um barril) para demonstrar o desprezo pelas convenções e a inutilidade dos bens materiais.
Viver uma vida de prazeres moderados, cultivando a amizade e a filosofia em um jardim afastado da cidade.
A filosofia de Anaxágoras, um pré-socrático pluralista, introduziu um conceito novo e poderoso para explicar a ordem do universo. Ele postulava que, no início, todas as coisas existiam juntas em uma mistura caótica. O princípio que atuou sobre essa mistura para separar as coisas e criar o cosmos ordenado que conhecemos foi:
O Vazio, que permite o movimento dos átomos e suas combinações, como em Demócrito.
O Logos, uma razão imanente ao próprio cosmos que governa o fluxo constante de mudança, como em Heráclito.
O Nous (Mente ou Intelecto), um princípio ordenador, infinito e autônomo, distinto da mistura que ele ordena.
As forças do Amor e do Ódio, que unem e separam os quatro elementos fundamentais, como em Empédocles.
Baruch Spinoza, em sua 'Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras', defende uma visão determinista do universo. Se tudo o que existe é Deus (ou Natureza) e tudo acontece segundo as leis necessárias de sua natureza, então não há espaço para o livre-arbítrio como tradicionalmente entendido (uma vontade que pode escolher incondicionalmente). Para Spinoza, a liberdade humana consiste em:
Ser capaz de violar as leis da natureza através de um ato de vontade soberana.
Escolher entre o bem e o mal, sendo moralmente responsável por suas ações perante um juiz divino.
Agir de forma espontânea e imprevisível, sem qualquer causa ou razão.
Compreender a necessidade que rege todas as coisas e agir com base nesse conhecimento, libertando-se das paixões que surgem de ideias inadequadas.
A teoria da justiça como equidade de John Rawls se baseia em dois princípios. O segundo princípio se divide em duas partes: a igualdade equitativa de oportunidades e o princípio da diferença. O 'princípio da diferença' estabelece que as desigualdades sociais e econômicas são aceitáveis somente se:
forem o resultado do mérito e do esforço individual em um mercado livre.
forem para o maior benefício dos membros menos favorecidos da sociedade.
aumentarem a riqueza total da sociedade, mesmo que a distância entre ricos e pobres aumente.
forem estabelecidas pela tradição e aceitas pela maioria da população.
Durante uma palestra sobre a sociedade contemporânea, um sociólogo afirma que os indivíduos vivem em uma 'jaula de ferro' de racionalidade burocrática. As relações sociais, o trabalho e até o lazer são cada vez mais governados por regras impessoais, cálculo de eficiência e desencantamento do mundo, levando a uma perda de sentido e liberdade individual. Essa crítica à racionalização da vida social é uma tese central de qual pensador?
Jean-Paul Sartre, que abordou a liberdade radical do indivíduo e a angústia da escolha em um mundo sem essência predefinida.
Karl Marx, que analisou a sociedade capitalista sob a ótica da luta de classes e da alienação do trabalhador em relação ao produto de seu trabalho.
Max Weber, que desenvolveu o conceito de 'jaula de ferro' para descrever o processo de racionalização e burocratização da sociedade moderna.
Émile Durkheim, que estudou os fatos sociais como 'coisas' e se preocupou com a coesão social e o conceito de anomia.
O utilitarismo de Jeremy Bentham baseia-se no 'princípio da maior felicidade', segundo o qual a ação moralmente correta é aquela que maximiza o prazer e minimiza a dor. Para tornar a ética uma ciência, Bentham propôs um 'cálculo felicífico', um método para medir a quantidade de prazer ou dor que uma ação poderia produzir. Este cálculo levaria em conta fatores como:
A intenção do agente, a conformidade da ação com o dever e sua universalidade.
A intensidade, a duração, a certeza, a proximidade, a fecundidade e a pureza do prazer ou da dor.
A vontade de Deus, a tradição e as leis estabelecidas pela sociedade.
A virtude do caráter do agente e se a ação está de acordo com o meio-termo aristotélico.
O Iluminismo escocês, representado por pensadores como David Hume e Adam Smith, deu grande importância ao papel dos sentimentos e das paixões na vida humana, em contraste com a ênfase na razão pura de alguns iluministas continentais. Em sua teoria moral, Hume argumenta que a base de nossos juízos morais (chamar uma ação de virtuosa ou viciosa) não é a razão, mas um sentimento de:
Dever, que nos comanda a agir de acordo com uma lei universal que possamos querer para todos, como em Kant.
Cálculo racional do autointeresse, onde consideramos virtuoso aquilo que nos traz mais benefícios pessoais a longo prazo.
Simpatia (sympathy), a capacidade de compartilhar os sentimentos dos outros, que nos leva a aprovar ações que promovem a felicidade e a desaprovar as que causam sofrimento.
Amor a Deus, que nos leva a seguir os mandamentos divinos revelados nas escrituras sagradas.
A teoria da justiça de John Rawls, apresentada em 'Uma Teoria da Justiça', propõe um método para encontrar os princípios de justiça que deveriam governar as principais instituições de uma sociedade. Ele sugere um experimento mental no qual indivíduos racionais escolhem esses princípios em uma situação hipotética de igualdade. Essa situação é chamada de:
Assembleia dos Cidadãos, um debate público real entre todos os membros da sociedade para decidir as leis.
Estado de Natureza, onde os indivíduos vivem sem governo e em conflito constante.
Comunidade Ideal de Fala, um conceito de Habermas para uma situação de diálogo livre de dominação onde a validade das normas é testada.
Posição Original, onde as partes estão sob um 'véu de ignorância', desconhecendo sua posição social, seus talentos e suas concepções de bem.
Em 'A Condição Humana', Hannah Arendt distingue três tipos de atividade humana que compõem a 'vita activa': labor, trabalho e ação. O 'labor' corresponde às atividades biológicas do corpo, ligadas à necessidade e à sobrevivência. O 'trabalho' cria o mundo artificial de coisas, durável e objetivo. A 'ação', para Arendt, é a atividade mais elevada e especificamente humana. Ela consiste em:
Agir e falar em conjunto com outros no espaço público, revelando quem somos e iniciando novos processos no mundo.
Produzir obras de arte que transcendem o tempo e conferem imortalidade ao artista.
Contemplar as verdades eternas em solidão, afastando-se dos assuntos mundanos.
Trabalhar de forma eficiente para produzir bens de consumo e garantir o sustento da vida.
Um juiz, ao proferir uma sentença, reflete sobre o conceito de justiça. Ele considera a definição aristotélica segundo a qual a justiça é uma virtude que se realiza na aplicação da lei, mas também na capacidade de corrigi-la quando ela se mostra falha em um caso particular. Tratar casos desiguais de maneira desigual, buscando restaurar a proporção. Essa adaptação da lei geral ao caso concreto, visando uma solução mais justa, corresponde ao conceito aristotélico de:
Retórica, que é a arte da persuasão e do bem falar, utilizada pelos advogados para convencer o júri.
Justiça Distributiva, que se ocupa da repartição de honras e bens na comunidade segundo o mérito de cada um.
Equidade (epieikeia), que funciona como um corretivo da justiça legal, permitindo adaptar a generalidade da lei às circunstâncias específicas.
Justiça Corretiva, que visa restaurar o equilíbrio rompido por uma ação danosa, como em um crime ou um contrato não cumprido.
Segundo Aristóteles, o ser humano busca por natureza a 'eudaimonia', frequentemente traduzida como felicidade ou florescimento humano. Este bem supremo não consiste em prazer, riqueza ou honra, mas em uma atividade da alma em conformidade com a virtude. A principal virtude, que constitui a mais alta forma de eudaimonia, é a:
Justiça, a virtude social que consiste em dar a cada um o que lhe é devido.
Atividade contemplativa ou teórica (theoria), o exercício da razão na busca pelo conhecimento, que é a função mais elevada e divina do ser humano.
Coragem, a virtude do guerreiro que controla o medo e a temeridade no campo de batalha.
Temperança, a virtude do controle dos prazeres e desejos corporais.
Um filósofo, ao refletir sobre a linguagem, argumenta que o significado de uma palavra não é o objeto que ela representa, mas sim seu uso dentro de um 'jogo de linguagem'. Assim como as peças de xadrez só têm sentido dentro das regras do jogo, as palavras só funcionam dentro de contextos sociais e práticos específicos. Essa crítica à visão tradicional da linguagem como mera representação da realidade é central na segunda fase do pensamento de:
Platão, que via a linguagem como uma ferramenta imperfeita para nomear as coisas do mundo sensível, que por sua vez eram cópias das Formas ideais.
Ferdinand de Saussure, que estabeleceu as bases da linguística estrutural, distinguindo entre 'langue' (o sistema) e 'parole' (o uso individual).
Noam Chomsky, que propôs a teoria de uma gramática gerativa universal, inata à mente humana.
Ludwig Wittgenstein, que em suas 'Investigações Filosóficas' abandonou sua visão anterior do 'Tractatus' e desenvolveu a ideia de jogos de linguagem.
O conceito de 'biopoder', desenvolvido por Michel Foucault, descreve uma nova forma de poder que surge na modernidade. Diferente do poder soberano, que se concentrava no indivíduo e tinha o direito de 'fazer morrer ou deixar viver', o biopoder é um poder sobre a vida. Ele se exerce em dois níveis principais: a disciplina dos corpos individuais e a regulamentação da:
População, tratando os seres humanos como uma espécie, gerenciando taxas de natalidade, mortalidade, saúde pública e longevidade.
Linguagem, estabelecendo as regras gramaticais e os significados das palavras para uniformizar a comunicação.
Economia, planejando a produção e a distribuição de bens para garantir a prosperidade do Estado.
Consciência, buscando controlar os pensamentos e crenças dos cidadãos através da propaganda e da ideologia.
O conceito de 'ressentimento' em Nietzsche é crucial para sua genealogia da moral. Ele descreve o ressentimento como uma re-ação, uma vingança imaginária dos fracos contra os fortes. A moralidade que nasce do ressentimento, a 'moral de escravos', caracteriza-se por:
Ser criadora de valores, estabelecendo a distinção 'bom' versus 'ruim' a partir de uma autoafirmação nobre.
Começar por dizer 'sim' a si mesma, à força, à saúde e à vida, e só depois criar o conceito de 'ruim' como consequência.
Valorizar a coragem, a honra, o orgulho e a capacidade de esquecer as ofensas.
Precisar de um mundo exterior, de um 'outro' para odiar, para poder afirmar a si mesma. Seu primeiro ato criador é dizer 'não' ao que é diferente dela.
Em uma discussão em uma praça pública em Atenas, um filósofo argumenta que o verdadeiro conhecimento não reside nas aparências mutáveis do mundo que percebemos com nossos sentidos, mas em um reino de formas perfeitas e eternas, acessíveis apenas pela razão. Ele sugere que o mundo sensível é como uma sombra projetada na parede de uma caverna, uma cópia imperfeita da realidade verdadeira. Essa argumentação é central para o pensamento de qual filósofo?
Heráclito, com sua doutrina do 'panta rhei' (tudo flui), afirmando a constante transformação de todas as coisas.
Sócrates, com seu método maiêutico, que buscava parir o conhecimento inato na alma dos indivíduos.
Aristóteles, com sua teoria do ato e potência, que explica a mudança e o movimento no mundo físico.
Platão, com sua Teoria das Ideias ou Formas, que distingue o mundo sensível do mundo inteligível.
Para Aristóteles, toda mudança no mundo pode ser explicada pela passagem da potência ao ato. Uma semente, por exemplo, não é uma árvore, mas tem o potencial de se tornar uma. O crescimento da semente em árvore é a atualização dessa potencialidade. O conceito que descreve a finalidade ou o propósito inerente a um ser, o 'fim para o qual' ele existe, é o de:
Causa Material, a matéria da qual algo é feito (a madeira da mesa).
Causa Final (telos), o propósito ou bem para o qual algo é feito (a função da mesa de servir para refeições).
Causa Formal, a forma ou essência de algo (o projeto da mesa na mente do carpinteiro).
Causa Eficiente, o agente que produz a mudança (o carpinteiro).
Em sua obra 'Leviatã', Thomas Hobbes descreve o 'estado de natureza' como uma condição pré-social onde não há leis, governo ou poder comum. Nessa condição, segundo ele, todos os homens são aproximadamente iguais em força e inteligência, e todos têm o 'direito de natureza', que é o direito de fazer qualquer coisa para preservar a própria vida. Essa igualdade e liberdade, paradoxalmente, levam a um estado de:
Isolamento e felicidade, onde cada indivíduo vive como um 'bom selvagem', satisfeito com suas necessidades básicas e sem contato com os outros.
Paz perpétua e cooperação mútua, pois a igualdade gera respeito e solidariedade.
Desenvolvimento da agricultura e das artes, pois, sem a opressão do governo, os indivíduos podem desenvolver livremente seus talentos.
Guerra de todos contra todos ('bellum omnium contra omnes'), pois a competição, a desconfiança e a busca por glória levam a um conflito constante.
O conceito de 'absurdo' é central na filosofia de Albert Camus, especialmente em sua obra 'O Mito de Sísifo'. O sentimento do absurdo nasce do confronto entre duas coisas. Quais são elas?
A liberdade humana e o determinismo divino, que parecem contraditórios.
O desejo humano por sentido, clareza e unidade, e o silêncio irracional e indiferente do mundo.
O bem e o mal, que coexistem no mundo de uma forma inexplicável.
A existência do indivíduo e as demandas da sociedade, que frequentemente oprimem sua autenticidade.
A noção de 'paradigma', popularizada por Thomas Kuhn na filosofia da ciência, refere-se a um conjunto de crenças, valores, técnicas e exemplos compartilhados por uma comunidade científica em um determinado período. A função de um paradigma durante os períodos de 'ciência normal' é:
Servir como uma verdade absoluta e definitiva, que não pode ser questionada ou substituída por nenhuma outra teoria no futuro.
Fornecer um arcabouço teórico e metodológico que orienta a pesquisa, definindo quais são os problemas relevantes e os métodos legítimos para resolvê-los.
Facilitar o diálogo entre diferentes campos da ciência, criando uma linguagem universal que unifique a física, a biologia e as ciências sociais.
Incentivar a crítica constante e a tentativa de refutação das teorias vigentes, como proposto por Karl Popper.
A filosofia de Jean-Paul Sartre é radicalmente centrada na liberdade. Para ele, o ser humano está 'condenado a ser livre'. Essa condenação significa que:
Os seres humanos são livres para escolher, mas suas escolhas são, em última análise, determinadas por fatores inconscientes e sociais.
A única verdadeira liberdade é a liberdade interior de pensamento, já que nossas ações no mundo são sempre constrangidas pelas circunstâncias.
A liberdade é um fardo pesado, pois, sem uma essência ou natureza predefinida e sem Deus para nos dar um propósito, somos totalmente responsáveis por tudo o que somos e fazemos.
A liberdade humana é limitada pelas leis da física e pela nossa condição biológica, não podendo ser absoluta.
A ética de Aristóteles é uma 'ética das virtudes'. A virtude (areté) é uma disposição de caráter, adquirida pelo hábito, que leva o indivíduo a agir de forma excelente. Para as virtudes morais, como a coragem ou a generosidade, Aristóteles propõe a 'Doutrina do Meio-Termo' (ou justa medida), segundo a qual a virtude consiste em:
Sempre escolher o caminho do meio exato em todas as situações, como comer exatamente metade do que se deseja.
Seguir uma regra moral universal que se aplique a todas as pessoas em todas as circunstâncias, sem exceção.
Atingir os extremos da paixão e da ação, pois a virtude estaria na intensidade dos sentimentos e não na moderação.
Um ponto intermediário entre dois vícios, um por excesso e outro por falta, que é relativo a nós e determinado pela razão prática (phronesis).
O filósofo contemporâneo Jürgen Habermas, herdeiro da Teoria Crítica, busca fundamentar a possibilidade de uma crítica racional da sociedade. Em sua 'Teoria do Agir Comunicativo', ele argumenta que, implícita em todo ato de fala que visa o entendimento, existe uma 'situação ideal de fala'. Esta situação é caracterizada pela ausência de coerção, onde o melhor argumento prevalece, e serve como um padrão normativo para:
Justificar o domínio da razão instrumental e da burocracia na sociedade moderna.
Desenvolver técnicas de retórica e persuasão para vencer debates, independentemente da verdade ou da justiça da causa.
Criticar as formas de comunicação sistematicamente distorcidas pelo poder e pelo dinheiro, e para orientar a busca por uma sociedade mais democrática e emancipada.
Provar que a linguagem é apenas um jogo de poder e que qualquer busca por consenso é uma ilusão.
O Estoicismo, uma das principais escolas filosóficas do período helenístico e romano, propunha um ideal de vida baseado na 'apatheia' (imperturbabilidade) e na vida em acordo com a natureza. Para os estoicos, o universo é governado por uma razão divina, o 'Logos' ou 'Fatum' (destino). Diante disso, a atitude do sábio deve ser a de:
Reconhecer o que está em seu poder e o que não está, e aceitar com serenidade aquilo que não pode mudar, pois faz parte da ordem racional do cosmos.
Buscar o máximo de prazer e evitar a dor, calculando as consequências de cada ação.
Duvidar de tudo e suspender o juízo, pois é impossível conhecer a verdadeira natureza da realidade.
Tentar mudar o curso dos acontecimentos através da ação política e da força, para adequar o mundo aos seus desejos.
Um dos debates centrais da filosofia medieval foi a 'questão dos universais'. O problema era saber se os termos gerais, como 'humanidade' ou 'animal', correspondem a algo real fora da mente. A posição que afirma que os universais existem realmente, como essências ou formas, seja no mundo (como em Aristóteles) ou em um reino separado (como em Platão), é conhecida como:
Ceticismo, que argumenta que não podemos saber se os universais existem ou não e, portanto, devemos suspender o juízo.
Realismo, que defende a existência real dos universais, independentemente das mentes que os pensam.
Conceitualismo, uma posição intermediária que diz que os universais existem como conceitos na mente, formados por abstração a partir de indivíduos semelhantes.
Nominalismo, que sustenta que os universais são apenas nomes ou palavras ('flatus vocis'), e que apenas os indivíduos particulares existem.
Na filosofia de Platão, o conhecimento verdadeiro (episteme) se diferencia da mera opinião (doxa). A opinião se baseia na percepção do mundo sensível, que é mutável e imperfeito. O conhecimento, por outro lado, tem como objeto as Formas ou Ideias, que são eternas e imutáveis. O processo pelo qual a alma se recorda das Formas, que ela contemplou antes de se encarnar em um corpo, é chamado de:
Abstração, o processo de derivar conceitos gerais a partir de experiências particulares, como na teoria de Aristóteles.
Anamnese ou reminiscência, a teoria de que aprender é, na verdade, recordar.
Maiêutica, o método socrático de 'dar à luz' o conhecimento através do diálogo.
Dialética, o método de ascensão do sensível ao inteligível, que culmina na visão da Forma do Bem.
Na filosofia política, o conceito de 'soberania' refere-se ao poder supremo e último dentro de um Estado. Jean Bodin, no século XVI, foi um dos primeiros a teorizar sobre a soberania como sendo 'absoluta e perpétua'. Para Thomas Hobbes, no século XVII, a soberania, para ser eficaz, deve ser indivisível e ilimitada. A principal função do soberano hobbesiano é:
Manter a paz e a segurança, pondo fim à 'guerra de todos contra todos' do estado de natureza, mesmo que isso exija um poder absoluto e incontestável.
Implementar a Vontade Geral do povo, expressando a soberania popular em leis que visam o bem comum, como propõe Rousseau.
Garantir os direitos naturais dos indivíduos, como vida, liberdade e propriedade, e seu poder pode ser revogado se ele os violar, como defende Locke.
Promover a virtude e a felicidade dos cidadãos, educando-os para a vida na comunidade política, como pensavam os filósofos gregos.
Santo Agostinho, em sua obra 'A Cidade de Deus', desenvolve uma filosofia da história que interpreta os acontecimentos humanos como um conflito entre duas cidades místicas. Uma é fundada no amor a si mesmo até o desprezo de Deus, e a outra, no amor a Deus até o desprezo de si mesmo. Essas duas cidades são:
A Cidade dos Homens (ou Terrena) e a Cidade de Deus (ou Celestial), representando a luta entre o pecado e a graça na história.
O Império Romano e a Igreja Católica, simbolizando a oposição entre o poder temporal e o poder espiritual.
A Cidade de Atenas e a Cidade de Jerusalém, representando o conflito entre a razão filosófica e a fé revelada.
A Cidade dos Patrícios e a Cidade dos Plebeus, refletindo a luta de classes presente na sociedade romana.
Um filósofo do século XIX, crítico do idealismo de Hegel, afirmava que a filosofia deveria partir da existência humana concreta, não de abstrações como o 'Espírito Absoluto'. Ele argumentava que a existência não é algo que possa ser compreendido por um sistema lógico, mas algo que deve ser vivido. Em sua obra, ele explora os 'estágios da existência' (estético, ético e religioso) como diferentes modos de vida entre os quais o indivíduo deve escolher através de um 'salto' irracional. Esse pensador é:
Ludwig Feuerbach, que criticou a religião como uma projeção das qualidades humanas em um ser divino e defendeu um humanismo materialista.
Søren Kierkegaard, um pensador dinamarquês que é considerado o precursor do existencialismo e que enfatizou a subjetividade, a escolha, a angústia e a fé.
Arthur Schopenhauer, que via o mundo como Vontade e Representação e defendia a negação da vontade de viver através da ascese como caminho para a libertação do sofrimento.
Karl Marx, que transpôs a dialética hegeliana para o campo material, analisando a história como uma luta de classes.
A Escola de Frankfurt desenvolveu um conceito para descrever o processo pelo qual a cultura na sociedade capitalista avançada se torna uma mercadoria padronizada, produzida em massa com o objetivo de gerar lucro e manipular as massas, promovendo o conformismo e a passividade. Filmes, músicas e programas de TV seguem fórmulas repetitivas, criando necessidades artificiais e sufocando o pensamento crítico. Este conceito é conhecido como:
Mais-Valia, conceito de Marx para a exploração do trabalho, onde o valor produzido pelo trabalhador excede o de seu salário.
Simulacro, conceito de Baudrillard para descrever cópias sem um original, que constituem a nossa realidade na pós-modernidade.
Indústria Cultural, termo cunhado por Adorno e Horkheimer para criticar a mercantilização da arte e da cultura.
Fato Social, conceito de Durkheim para as maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo e dotadas de poder coercitivo.
O 'eterno retorno', em Nietzsche, não é uma teoria cosmológica sobre a repetição literal dos eventos, mas um pensamento seletivo, um teste ético. Ele nos pede para imaginar que um demônio nos dissesse que teríamos de viver nossa vida incontáveis vezes, com cada dor e cada alegria. A reação a esse pensamento distingue os fortes dos fracos. O Übermensch seria aquele que, ao ouvir isso, responderia:
Com desespero, buscando uma forma de escapar desse ciclo de sofrimento sem fim.
Tentando acumular o máximo de prazer e evitar a dor, para que as repetições fossem mais agradáveis.
Com indiferença, pois o futuro já estaria determinado e nada poderia ser mudado.
Com alegria e amor ('amor fati'), abraçando a ideia e querendo que cada momento de sua vida retorne, pois ele viveu de tal forma que não se arrepende de nada.
Sócrates foi condenado à morte em Atenas sob a acusação de corromper a juventude e não crer nos deuses da cidade. Sua prática filosófica consistia em dialogar com seus interlocutores, fazendo-os questionar suas próprias crenças e reconhecer sua ignorância. Esse método, que envolve a ironia (fingir não saber) e a maiêutica (ajudar a 'dar à luz' as ideias), tinha como objetivo principal:
Ensinar retórica e oratória para que os jovens atenienses tivessem sucesso na vida política e nos tribunais.
Desenvolver um sistema filosófico completo sobre a origem do universo (cosmologia) e a natureza da matéria (física).
Provar a existência dos deuses através de argumentos lógicos e irrefutáveis para fortalecer a religião tradicional.
Levar o indivíduo ao autoconhecimento ('Conhece-te a ti mesmo') e ao cuidado da alma (psyché), buscando a verdade e a virtude.
No diálogo 'A República', Platão descreve sua concepção de uma cidade ideal (Kallipolis). A justiça na cidade, segundo ele, consiste na harmonia entre as três classes sociais, onde cada uma cumpre a sua função específica. A classe dos governantes, que deve ser composta por filósofos, corresponde à parte da alma humana que é:
A parte apetitiva ou concupiscente (epithumia), que corresponde aos produtores (artesãos, agricultores) e está ligada aos desejos e prazeres corporais.
A parte racional (logos), que deve governar as outras partes com sabedoria.
O corpo (soma), que é a parte material e mortal, fonte de todos os males e conflitos.
A parte irascível ou impetuosa (thumos), que corresponde aos guardiões (guerreiros) e é responsável pela coragem e pela defesa da cidade.
A teoria do conhecimento de David Hume, um empirista radical, leva a conclusões céticas sobre conceitos que consideramos fundamentais. Ele argumenta que nossa crença na causalidade (que um evento A causa um evento B) não se baseia na razão nem na observação de uma 'conexão necessária' entre os eventos, mas sim em:
Um raciocínio lógico dedutivo que prova que o futuro deve se assemelhar ao passado.
A estrutura transcendental do nosso entendimento, que impõe a categoria de causalidade às nossas experiências.
O hábito ou costume, formado pela observação repetida de uma conjunção constante entre dois eventos no passado.
Uma ideia inata de causa e efeito, implantada por Deus em nossas mentes.
Um filósofo iluminista defende que a mente humana, ao nascer, é como uma folha em branco, ou 'tábula rasa'. Todas as nossas ideias, segundo ele, provêm da experiência, seja através da sensação (o contato direto dos sentidos com o mundo exterior) ou da reflexão (a percepção das operações da nossa própria mente). Essa posição se opõe diretamente ao racionalismo, que postula a existência de ideias inatas. Tal teoria do conhecimento é a base do pensamento de:
Immanuel Kant, que propôs uma síntese entre racionalismo e empirismo, afirmando que o conhecimento começa com a experiência, mas não se limita a ela.
René Descartes, que defendia a existência de ideias inatas, como a ideia de Deus, perfeição e infinito.
John Locke, um dos fundadores do empirismo britânico, que formulou a teoria da mente como uma 'tábula rasa'.
Baruch Spinoza, um racionalista que desenvolveu um sistema metafísico monista, identificando Deus com a Natureza.
O conceito de 'diferença ontológica', fundamental no pensamento de Martin Heidegger, refere-se à distinção entre:
A essência e a existência, onde a essência é o que uma coisa é, e a existência é o fato de ela ser.
O mundo sensível e o mundo inteligível, como na filosofia de Platão.
O Ser e o ente. O ente é tudo o que 'é' (uma cadeira, uma pessoa, um número), enquanto o Ser é aquilo que permite que os entes sejam, mas não é ele mesmo um ente.
O sujeito e o objeto, a consciência e o mundo exterior, como na filosofia moderna.
Ao analisar a evolução do conhecimento científico, um filósofo propõe que a ciência não progride de forma linear e cumulativa, mas através de 'revoluções científicas'. Em períodos de 'ciência normal', os cientistas trabalham dentro de um 'paradigma' aceito. Contudo, o acúmulo de 'anomalias' pode levar a uma crise e à substituição do antigo paradigma por um novo, incompatível com o anterior. Essa visão da história da ciência foi desenvolvida por:
Karl Popper, que propôs o critério da falseabilidade para demarcar a ciência e via o progresso científico como a eliminação de erros.
Francis Bacon, que defendeu um método indutivo baseado na experimentação e na libertação dos 'ídolos' que obstruem o conhecimento.
Auguste Comte, o fundador do positivismo, que via a ciência como o estágio final e superior do desenvolvimento do espírito humano.
Thomas Kuhn, que em sua obra 'A Estrutura das Revoluções Científicas' introduziu os conceitos de paradigma, ciência normal e revolução científica.
O ceticismo é uma corrente filosófica que questiona a possibilidade de se alcançar um conhecimento certo e indubitável. Pirro de Élida, considerado seu fundador, propunha a 'epoché' como atitude diante da incerteza. Aplicada ao campo da ética, essa atitude cética levaria à 'ataraxia', pois:
ao suspender o juízo sobre o que é verdadeiramente bom ou mau, o indivíduo se libertaria das perturbações e angústias causadas por crenças dogmáticas.
ao provar a existência de uma verdade moral absoluta, o cético encontraria a paz seguindo essa verdade.
ao se engajar em debates para refutar todas as opiniões, o cético fortaleceria sua alma e se tornaria indiferente ao sofrimento.
ao aceitar o destino como racional e inevitável, o cético aprenderia a controlar suas emoções e viver em harmonia com o cosmos.
A Estética é o ramo da filosofia que investiga a natureza da arte e do belo. Para Platão, a arte, em geral, é uma 'mímesis', ou seja, uma imitação. Considerando sua Teoria das Formas, a arte estaria em uma posição epistemologicamente frágil porque:
ela utiliza materiais caros e requer muito tempo para ser produzida, o que desvia recursos de atividades mais importantes como a política e a guerra.
ela é acessível a todas as classes sociais, o que ameaça a estrutura hierárquica da República ideal governada pelos filósofos.
ela é uma imitação de uma imitação; por exemplo, uma pintura de uma cama é a cópia de uma cama sensível, que já é uma cópia da Forma ideal de Cama.
ela expressa as emoções do artista de forma muito intensa, o que pode perturbar a ordem racional da alma e da cidade.
O filósofo contratualista John Locke é considerado um dos pais do liberalismo político. Ele parte do conceito de 'estado de natureza', mas sua visão é muito diferente da de Hobbes. Para Locke, o estado de natureza é regido por uma 'lei natural', que é a própria razão. Essa lei ensina a todos os homens que, sendo todos iguais e independentes, ninguém deve prejudicar o outro em seus:
Costumes e tradições, que devem ser preservados acima de qualquer lei ou direito individual.
Direitos à vida, à saúde, à liberdade e à propriedade, que são direitos naturais inalienáveis.
Desejos de poder e glória, pois todos têm o direito de buscar a dominação sobre os outros.
Bens comunais, pois no estado de natureza toda a terra e seus frutos pertencem a todos coletivamente.
O problema do mal é um desafio teológico e filosófico que questiona como a existência do mal (sofrimento, crueldade, desastres naturais) pode ser compatível com a existência de um Deus que é onipotente, onisciente e onibenevolente. Uma resposta clássica a esse problema, associada a Santo Agostinho e Leibniz, é a 'teodiceia do livre-arbítrio'. Ela argumenta que:
O mal não existe realmente; é apenas uma ausência ou privação do bem, assim como a escuridão é a ausência de luz.
O mal é necessário para que possamos apreciar o bem e para que os seres humanos possam desenvolver virtudes morais como a compaixão e a coragem.
O mal moral (o pecado) não é culpa de Deus, mas resulta do mau uso que os seres humanos fazem de sua liberdade de escolha, um dom que é, em si mesmo, um grande bem.
Deus não é onipotente e, portanto, não consegue impedir o mal, embora deseje fazê-lo.
Um filósofo, observando o comportamento humano, conclui que as pessoas frequentemente agem com base em 'ressentimento'. Indivíduos fracos, incapazes de realizar seus desejos, criam uma moralidade que condena a força, a nobreza e a alegria dos poderosos, chamando de 'bom' aquilo que é fraco, humilde e passivo, e de 'mau' aquilo que é forte e autoafirmativo. Essa análise da 'moralidade de rebanho' ou 'moralidade de escravos' é uma peça central da genealogia da moral de:
Friedrich Nietzsche, que contrapôs a 'moral de senhores' (criadora de valores) à 'moral de escravos' (nascida do ressentimento).
Immanuel Kant, que baseou a moralidade no dever e na universalidade da lei moral.
Aristóteles, que definiu a virtude como um meio-termo entre dois extremos viciosos.
John Stuart Mill, que propôs o utilitarismo, onde a moralidade de uma ação é julgada por sua capacidade de promover a felicidade.
O 'mito do bom selvagem', frequentemente associado a Jean-Jacques Rousseau, descreve o homem em seu estado de natureza original. Segundo essa visão, o homem natural, antes de ser corrompido pela sociedade, era:
Um ser social e político por natureza, buscando viver em comunidade e criar leis.
Solitário, autossuficiente, guiado por instintos de autopreservação ('amour de soi') e compaixão ('pitié'), e, portanto, essencialmente bom e feliz.
Racional e calculista, usando sua inteligência para dominar a natureza e competir com seus pares.
Egoísta, violento e vivendo em um estado de guerra constante com os outros.
Um dos argumentos clássicos a favor da existência de Deus, desenvolvido na Escolástica, é o argumento teleológico ou do desígnio. Ele parte da observação de que o universo exibe ordem, complexidade e propósito, como um relógio que pressupõe um relojoeiro. A conclusão do argumento é que:
Deve haver um primeiro motor imóvel que dá origem a todo o movimento no universo, e este motor é Deus (Argumento do Movimento de Aristóteles/Tomás de Aquino).
Deus é definido como o ser do qual nada maior pode ser pensado; como existir na realidade é maior do que existir apenas na mente, Deus deve existir na realidade (Argumento Ontológico de Santo Anselmo).
Tudo o que começa a existir tem uma causa; o universo começou a existir, logo, o universo tem uma causa, que é Deus (Argumento Cosmológico Kalam).
Essa ordem e finalidade no universo não podem ser fruto do acaso, devendo, portanto, ser o produto de uma inteligência superior, que é Deus.
A filosofia de Gilles Deleuze, muitas vezes em colaboração com Félix Guattari, propõe uma nova imagem do pensamento, que não se baseia na representação e na identidade, mas na criação e na diferença. Eles contrapõem o modelo de pensamento 'arborescente' (com uma raiz, um tronco e ramos hierárquicos) a um modelo que eles chamam de 'rizoma'. Um rizoma é caracterizado por:
Ter um centro fixo e uma estrutura hierárquica, onde todos os pontos se conectam a um ponto central de poder.
Seguir uma progressão linear e lógica, onde cada passo se segue necessariamente do anterior.
Ser uma estrutura fechada e estática, que não permite novas conexões ou transformações.
Ser um sistema acêntrico, não hierárquico, onde qualquer ponto pode ser conectado a qualquer outro, crescendo de forma imprevisível e múltipla.
Na obra 'O Segundo Sexo', a filósofa Simone de Beauvoir faz uma análise existencialista da condição feminina. Sua famosa afirmação 'Não se nasce mulher, torna-se mulher' significa que:
Apenas através de uma cirurgia de mudança de sexo uma pessoa pode verdadeiramente se tornar uma mulher.
As características biológicas do sexo feminino são uma construção social e não existem na natureza.
A mulher é um ser superior ao homem, pois sua essência é construída socialmente, enquanto a do homem é meramente natural.
A identidade de 'mulher', com todos os seus papéis e expectativas sociais, não é um destino biológico, mas uma construção cultural e histórica imposta sobre o indivíduo do sexo feminino.
Ainda não há resultados, tente você!